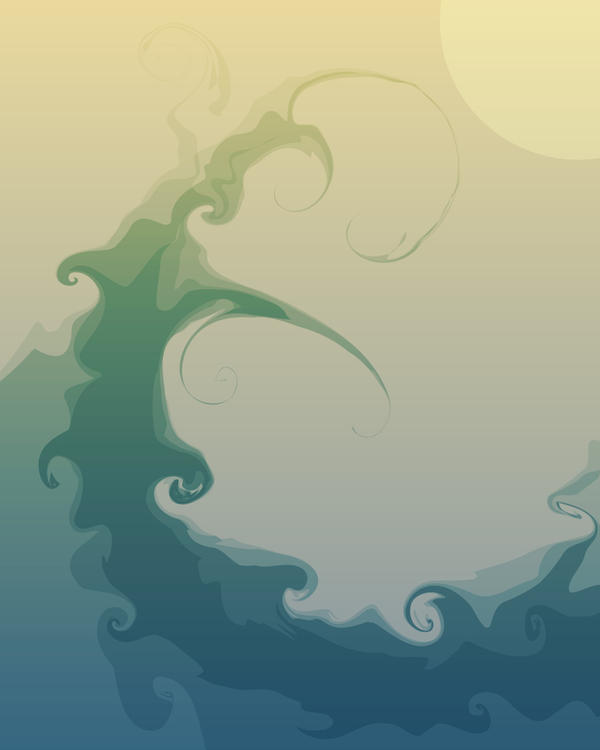domingo, 30 de dezembro de 2012
Epifania
quarta-feira, 12 de dezembro de 2012
Ondas
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
Erva Primitiva
sábado, 15 de setembro de 2012
Cântaro

De alguma forma eu me lembro de ti quando me deparo com qualquer coisa que me faça interromper uma respiração. A eternidade ensaiada que compõe um susto. O abismo entre o silêncio e o toque do arco no violino. Sinto a sediciosa queda livre durante todos os ponteiros dos relógios todos. O próximo segundo pode trazer qualquer surpresa triste, como sua silhueta diminuindo na geometria do meu olhar, dolorosas janelas enevoadas. Lembro porque o que causa em mim é tão feroz que abre meus poros para a sensibilidade da Terra e no meu planeta só há catástrofes.
Sempre achei belo em você não o que possui de afetuoso, mas o que possui de urgente. Uma beleza em lampejos que faz para o meu coração o que o sol faz para os olhos, de forma até mais inebriante. O que percebo de elétrico quando entrelaço sua mão com desespero vem da mesma energia bestificante que me coloca forte para abandonar toda a minha história, porque onde há o eu na limitação do singular não há meu interesse. Contigo, composto: o que quero. Todos os outros laços que fiz vêm de tecidos de mim e fios de sangue que quero unir para fazer o nosso nó, amaldiçoando-nos na eternidade do eterno. E quando exibo toda a avaria nas gesticulações teatrais que os apaixonados comumente desenham, você abre um sorriso que é a aurora boreal cobrindo o meu deserto, e então não preciso me chover.
Outrora, a imagem de mim - uma ave confinada. Ou talvez não confinada, mas nascida já atrelada a grilhões. O canto de desmazelo ensurdecido pelas indiferenças cotidianas, o grito surdo que não reverbera em quina alguma, cantando a solidão que não cabe na extensão da própria palavra. As asas são uma promessa longínqua de um voo que nunca acontecerá. E quando o meu decerto salvador, você, apareceu entre as grades com a chave tilintando entre os dedos, não abriu a porta para que eu saísse. Abriu a porta para que você entrasse. Enclausurou-se comigo sem nenhum gemido de desconforto. Sussurrou nos meus ouvidos que o mundo lá fora também possui limites e que a nossa liberdade seria real porque viria de dentro, do imaterial. Nosso mundo seria ali e seria enorme e eu não precisaria bater asas. Melhor é te sentir com os pés tocando o chão, na esperança de raízes.
Ah... Não é como se eu quisesse uma vida romântica de alegrias continuadas. O amor está no desamparo de um meio esgar azedo de lábio, e também na sombra que tolda o rosto quando sua mão fecha meus olhos em surpresa. O suspiro decoroso e a comiseração despreocupada. Eu quero o abrasivo torpor do verão intercalado com a despedida que é comum ao outono. Acordar com a fúria escapulindo entredentes e dormir feliz feito um passarinho. Entre os vales e picos: ao regozijo desmesurado que há na felicidade e ao aprendizado cicatricial que há na tristeza, viajar...
Se existe no concreto ou no abstrato, existe e basta. Existe em mim e me sobrepuja, como três dimensões sobre duas. Todo amor é um fulgor de fantasia, fuga desmascarada, força motriz do movimento. É a única linguagem que transcreve nosso caos.
quarta-feira, 11 de julho de 2012
Caleidoscópio
Os olhos já negros de Vítor iam ficando cada vez menos translúcidos enquanto o vapor quente da janta turbilhonava pelas bordas dos pratos, até não haver mais reflexos na íris opaca. Muita salada, pouco do resto. Sua irmã mais nova o observava com a costumeira faceta de preocupação, que concentrava o enrugo dos lábios em um dos cantos da boca, geralmente o esquerdo. Como se ali estivessem contidas uma imensidão de palavras de apoio que jamais seriam ditas. Soaria impróprio fazê-lo naquele momento, de frágil etiqueta familiar. Derrotada pela inércia da ocasião, voltou-se para seus próprios pensamentos, em lúgubre silêncio.
Quatro pessoas compunham a mesa redonda que guarnecia a copa de poucos móveis e paredes róseas. Beatriz, a mãe, sentou-se por último, após distribuir as panelas pela extensão de madeira, e então dirigiu um sorriso plácido a sua família. Quase um reflexo. A já senhora, em sua idade de meio século de beleza sustentada pela austera vaidade feminina, exibia um vestido longo com folhas mortas de outono em fundo branco, que de certa forma contrastava com seus cabelos cor-de-topázio, espiralados até a cintura. Os lábios finos e ofídicos estavam enegrecidos pelo resto do cigarro de outrora, e quando se descolavam a abertura era tão tênue que se poderia esperar um suspiro, mas a voz era rouca e firme:
– Bernardo, coloque um pouco de suco para mim, por favor? – pediu ao namorado, indicando a jarra com um elevar impaciente de sobrancelhas.
– Claro. – acenou, enquanto a servia sem delongas. Sua barba desordenadamente crescida era uma evidente tentativa para que superestimassem sua idade. Os fios eram grossos em demasia e se voltavam para todas as direções, sendo uns mais desgrenhados que outros. Ainda assim não preenchiam dois rastros de pele ao redor da boca que permaneciam nus, mas que logo encontravam o fim ao desembocar no gramado alto que forrava o pescoço. Uma vez e meia mais alto que sua companheira, detinha gestos atabalhoados que porventura quebravam xícaras ou destruíam porta-retratos, dada a musculatura hipertrofiada. Não houve nenhum acidente enquanto o copo recebia o suco de laranja, fato que o fez grunhir em alívio.
– Flávia, Vítor, vocês não querem?
– Eu já bebi, mãe, obrigada.
A resposta do filho mais velho não era esperada por nenhum dos outros três. Sabendo-se disso, ele limitou-se a fechar os olhos como quem diz que fará o mesmo que se repete todos os dias: beberá, ao fim, um copo d’água. Nada mais. Vítor permaneceu naquele estado de leve concentração por mais alguns segundos, voltando sua atenção para o olfato que sorvia o aroma dos alimentos pelos poros das narinas, a subir pelas narinas, a fazer caminho pelo nariz e enfim se fazer sensação que deságua no âmago. Tão plena sensação! Podia sentir a textura das ranhuras das folhas e engolir uma saliva ácida que imitava o agridoce do tomate, rodela única. O cruel gosto da saudade, e também a saudade do gosto. Os ouvidos percebiam a frequência dos ponteiros do relógio que gritava que esse era o momento certo. O ansiado momento de sua libertação. Apunhalou com as respectivas mãos os talheres, destruindo grilhões invisíveis.
– Eu mesma terminei de arrumar a mala de vocês, enquanto estavam na escola. Partiremos amanhã bem cedo, para chegarmos mais ou menos na hora do almoço. Não durmam tarde, senão ficarão abatidos!
– Para onde vamos mesmo, mãe?
– Para a formatura de seu primo Ítalo, filha. Ficaremos durante três ou quatro dias. Missa, colação de grau e festa.
– Eu sei, eu sei. Estou perguntando a cidade.
– Ah, sim... Maringá, no Paraná.
As palavras atingiam meramente o garoto, fazendo morada numa camada longínqua qualquer de sua consciência. O outro dia parecia tão distante... As engrenagens do tempo giravam devagar, a seu tenro dissabor. O batimento cardíaco culminando em visíveis ondas na pele delgada. Essas engrenagens enferrujadas giravam vagarosas enquanto ele fitava sua refeição, a única ainda intocada. Imaculada. Como se no espaço entre eles dormisse um segredo prestes a ser também devorado. Cúmplices. Havia algo naquela paisagem que era inóspito e que o olhar agora acomodado podia ver: ele mesmo refletido na brancura do prato por trás da salada. Balançou a cabeça com certa força para tirar aquela imagem (que talvez fosse um sinal divino para que ele parasse) de sua frente, aquela horripilante imagem, e o pescoço se moveu de forma tão obtusa que retiniu em alto tom um estalar ósseo. Sua mãe e padrasto se voltaram contra ele, com as testas franzidas em cruas interrogações. A irmã, resignada.
– Tinha um mosquito no meu cabelo.
Era um bom mentiroso, já atestara diversas outras vezes. Mas aquela mentira soou para si tão irônica que quando enfim a classificou assim, o sentimento logo se transfigurou em tão somente e amarga raiva. Aquele era pra ser o seu espaço para mastigar, deglutir, engolir, arrotar, sorrir. Não era o momento para que aquela imagem o perturbasse. Fez uma nota para consigo mesmo: pegaria apenas pratos escuros de agora em diante.
– Coma logo, meu filho, senão vai esfriar!
Comentário estúpido: saladas já são naturalmente frias, ele pensou. A mãe quase não olhava diretamente no rosto do filho e ele interpretava isso como uma forma inconsciente de manter a verdade acumulada em algum ponto cego da retina. Sobre o forro da covardia de quem ama. Ainda assim não a culpava, entendia que negar a realidade era uma alternativa mais cômoda, naquele momento. Ao mesmo tempo, preocupá-la ou deixá-la histérica não iria ajudar em nada a afastar os fantasmas da culpa, do desejo e da imagem. Beatriz também travava lutas com os próprios fantasmas. Diante de um acordo de silêncio e mútua irresponsabilidade, limitavam-se a trocar sílabas fáceis sobre rotina e falsas preocupações.
O garfo já estava tão seco em contato com a pele que quase sentiu ser uma extensão do próprio membro. A penúria haveria de acabar, estava na hora. Desfolhou um redemoinho de espinafre como um mendigo que abandona a penúria. Os dentes trituravam o verde quase não o deixando encostar-se à mucosa. Não era exatamente o sabor do alimento que o interessava, mas o ato de se alimentar. De poder se alimentar. O próprio movimento da boca que abre e depois se fecha espalhava pelo seu corpo um prazer gelado e misterioso, que há muito não obtinha com fontes tão fartas. Algo que vinha de algum lugar abissal dentro de si mesmo que o remetia a suas origens animais. Sua natureza predadora. Comeu com urgência e prontamente encheu o prato de mais legumes e verduras, abocanhando tudo numa ferocidade tamanha que era claramente destoante de seu comportamento anterior. E repetiu o ciclo novamente, intercalando com copos de água. Engolia rápido, pois o atrito de qualquer volume descendo-lhe a garganta o incomodava. O preenchimento tão nefasto, digno de ser esquivado. Mas logo vinha a dúvida: era ele que se alimentava ou aquelas peças se alimentavam dele? Elas entrariam por dentro do seu corpo e ficariam alojadas em algum lugar de pele ou gordura, ocupando espaço. Carregaria algo daqueles tomates para sempre em seu corpo. Não eram muito diferentes de um parasita, na visão de Vítor.
– Crianças, vou recolher as coisas e ir dormir, estou muito cansada. Você vem comigo, Bernardo? – afundou a mão na cabeleira em sinal de impaciência. O grandalhão se levantou, anuiu para a mulher e levou os pratos e panelas para a cozinha, enquanto ela já se dirigia para o quarto de casal onde ambos dormiam. Na cozinha, o som da água corrente regia o fim do jantar, e ele se findou abruptamente. Os passos do padrasto faziam pequenos terremotos no assoalho – Não demorem para dormir porque amanhã acordaremos cedo, ouviram? Boa noite e durmam com Deus! – exclamou, antes que o namorado fechasse a porta do quarto.
– Boa noite, mãe! – os dois responderam em uníssono.
Flávia e Vítor entreolharam-se. A moça, apesar de seus meros catorze anos, detinha um poder de observação tão grande que não raro assustava o mais velho. Mesmo calada ela parecia entender tudo que se passava dentro do irmão, coisas que ele mesmo não entendia perfeitamente ela já conseguia racionalizar, de forma que apenas um olhar cálido era o suficiente para acalmá-lo. Ela raramente fazia das palavras o seu veículo de expressão. Sempre tão serena... Mas, naquele momento, as sobrancelhas caídas da menina revelavam somente piedade e falso contentamento, confirmada pelo aperto no ombro de Vítor, o beijo seco na bochecha dele e a despedida quase fúnebre.
Apagou as luzes quando viu que apenas ele restara no cômodo. E quando a penumbra pairou como um véu instantâneo que engole a luz, uma presença intangível pareceu tocar-lhe a face, bem rente, um toque gélido e fastidioso. Era a culpa. Encostou a testa na mesa mergulhando em revolta com os deuses, sobre a própria falta de poder sobre o próprio destino funesto. Por que não poderia ser da forma como ele quisesse? Por que se descontrolou daquela maneira se já havia prometido para si que jamais comeria daquela forma de novo? Ele arranhava o próprio couro cabeludo enfurecido por ser cárcere naquele corpo que tanto odiava. A falta de autocontrole, além de não ser capaz de frear os impulsos e vontades para ele tão efêmeras despencava qualquer coisa gélida no estômago já tão cheio.
Havia uma desconexão importante entre a mente e o corpo de Vítor, duas entidades que não deveriam ser polarizadas já que possuem tantas interseções. Num desses momentos em que ele não consegue estabelecer uma ponte racional e um diálogo entre a sua imagem corporal e a própria identidade, os atos vão deixando de ser permeados pela racionalidade e se tornam uma série de impulsos que revelam necessidades que ele mesmo não compreende. Desse modo nem sequer se deu conta de como chegou ali, onde todo o sofrimento era exaurido até o fim: em frente ao espelho do banheiro, com o peito despido e uma escova de dente na mão direita.
O espelho era sempre um algoz temível, a verdade na sua forma mais descarnada. Vítor era por muitos considerado um garoto bonito. Os fios enegrecidos e foscos caiam desordenadamente pelo rosto, e geralmente se movimentavam com vivacidade própria quando ele fazia os mais breves movimentos com o pescoço. Sua pele de cera era delicada como um pergaminho prestes a se rasgar, pálida. Todos detalhes eram cravejados profundamente: os olhos eram pedras negras semeadas num solo raso. Globosos e contornados por sobrancelhas grossas e imponentes. O nariz levemente torto se inclinava para cima em austeridade. A boca imitava a de sua mãe, ofídica, mas era carnuda e vermelha como sangue vivo. O queixo pontudo e nenhuma bochecha, como se algo dentro da boca fizesse um vácuo. Descarnado.
Para o jovem, ser bonito ou não ser era um fator pífio em seus dilemas. Ele queria ter um corpo que simbolizasse o que realmente era, a força de sua determinação engajada numa disciplina primorosa em que ele construiria a estrada que o guiasse para o futuro. Dominador de todas as variáveis. E aquele que ele via no reflexo a sua frente, desmesurado e desarmônico, não poderia representá-lo. Passava os dedos pelo tórax lendo a textura de sua pele, intrigado por apenas três das costelas serem visíveis dos dois lados. A clavícula poderia ser mais proeminente, gostaria de poder senti-la em toda a sua circunferência, mas ainda havia algo de gorduroso ali que precisaria ser eliminado. Sentiu na cintura a largura que ele possuía com as duas mãos em pinça. Comprimiu a pele até ser plano e a soltou, na esperança que ela não vibrasse. Vibrou. A bacia também era larga, e a articulação do joelho não era suficientemente exposta na pele adjacente. Em seu pensamento a imagem que ele mais odiava, o corpulento padrasto de braços enormes e peitoral animalesco, estava cada vez mais próxima do que ele poderia se tornar. Uma lágrima de fúria gotejou na pia abaixo de si. Ligou a torneira, levantando a escova de dente. Deixou o som da torrente criar uma ilusão do que ele poderia estar fazendo ali ser qualquer coisa habitual e costumeira.
Pois se ajoelhou em frente ao vaso sanitário como se ali fosse o altar para a sua rendição. Porque os grilhões que outrora desapareceram, voltaram com correntes ainda mais fortes. A purificação dolorosa, autoflagelada, punitiva e libertadora era necessária. Pendulou-se, a ponta austera do nariz quase fazendo ondas na lâmina d’água. Fundo, deveria ir muito fundo. A escova que agora era a sua espada deveria ceifar o mal, primeiramente trazendo-o à tona. Sentiu todas as suas vísceras contraindo, como se gritassem, quando induziu o reflexo do vômito levando o objeto a tocar a parede da garganta. Algo retumbava dentro de si como um clamor pela libertação de toda aquela sujeira que se aglomerava em grumos e drupas e bolores infectados. Em sua concepção, ele não estaria se ferindo, e sim se curando. E enfim o tão esperado som do jato inundou seus ouvidos, enquanto aquela mistura de cores e líquidos com esferas em suspensão se dissolvia lentamente com a água. O fedor já conhecido volatizava. Repetiu o procedimento três vezes até que conseguia identificar o que poderia ser o resto do tomate ou da alface de minutos atrás. Parou quando nada mais era expelido, além da pura saliva cuspida e dos murmúrios de dor. Fechou os olhos, exausto, e ficou consigo por alguns segundos em custódia, ouvindo o jorrar da torneira. Os joelhos doíam e estavam ruborizados. Precisou apoiar naquele altar para se reerguer. Acionou a descarga.
O gosto áspero na boca e o abdome doloroso seriam as marcas para que ele não cedesse a tentação novamente. Para que ele não pensasse que a próxima vez seria a única e que depois ele se privaria, porque a privação precisa ser constante para ser efetiva. Assim pensava...
Quando abriu a porta do banheiro, Flávia estava do outro lado, marejada em lágrimas. Irrompeu até ele num abraço apertado, querendo livrá-lo daquela penúria em que ele colocava a si próprio. Ele permaneceu com os braços caídos, retesado em sua acalentada miséria.
– Está se preocupando sem precisar, maninha. – acariciou a testa dela, dando-lhe um beijo delicado – Vamos dormir, amanhã temos um longo e cansativo caminho pela frente...
Não havia comoção em suas palavras, mas um fastio de inveja. Queria ter aquele corpo ressequido, e também sua despreocupação ignorante de criança.
– Estou indo dormir, Flávia. – naquele dia, portanto, não suportaria mais vê-la.
segunda-feira, 25 de junho de 2012
Semiótica

Na calçada há dois pés sem pressa em passos e delongas: eu, a conjeturar um mundo onde não há espelhos. Não acredito que não more nos reflexos um mínimo de dor, quaisquer reflexos. Qualquer dor. É a sina, o sinal sobre o qual me delimito solenemente no espaço, no tempo sem sol que ainda assim me contorna com dedos de luz, a meu ácido contragosto. O corpo que reflete no vidro sujo e no vidro limpo e no vidro do carro é uma estratégia que o primeiro olho inventou para compactar o que há de mais desumano nos traços humanos – a vida, num sentido maior que apenas o amor lhe designa. Alguns resumem esse fatídico cárcere sobre a alcunha da beleza, conceito feio. Digo isso a mim quando vejo suas fotos e há nos seus traços poeira minha que é quase membro de tão densa, tecida no espectro vasto em que mora a raiva dos dias finais e de tantas outras horas fora desses dias. De agora, de um segundo atrás e dois também. Admiro as fotografias não admirando você, e sim a mim enquanto irradiação de você. Admirando você. Porque não haveria como eu me deitar contigo, no escuro onde os corpos podem se expandir para a ilusão da forma completa (e o que todos buscamos em caminhos propositalmente sinuosos é sempre algum subterfúgio de ilusão), sem lhe transferir algo de mim que eu não sei onde fica - mas que é núcleo vermelho vivo voraz, cheio dos componentes abissais que me compõem vitral torto mas de casca hígida. Os nojentos e execráveis componentes que atribuímos um carinho tolo de propriedade, de tesouro único. Então quando a vitrine me mostra como um manequim tosco de semblante vazio não sou aquilo mais do que eu sou a moldura dessas fotos, bege e velha. A tentativa de contenção dos momentos pelas bordas. Inútil! Eles envelhecem pelo centro, em fogo lento... Meus olhos castanho-mortos que piscam em demasia para apressar os ponteiros são menos minha visão em se tratando de alma do que a máquina que registrou esses lapsos, trancada em gavetas que também existem dentro de mim, a revelar a vontade ímpar de traduzir a felicidade rara numa memória embelezada, tresloucada na aquiescência dos apaixonados. E nas minhas mãos que cerram pulsos de falsa misericórdia creio que os átomos sejam na maioria seus, dos toques de carícia aos tapas de fúria e de sadomasoquismos tão nossos. O cheiro desses átomos parece eterno, já arrastado por toda a extensão de pele, de carne e ossos. Percebo que as palavras cuspidas e vociferadas de separação não são o suficiente, porque as palavras também são pacotes limitados que comunicam raramente em veracidade o que nem sempre sentimos, e no nosso caso algo mais definitivo seria necessário para desfazer o laço e os nós que há no laço. Nós. Pois apenas eu lhe enxergo em totalidade, ou talvez também os amantes. Eu, um deles. Não deixo de sorrir e descolar os lábios crispados quando os signos tantos me congratulam como seu mais antigo criador. Eu também ajudei a criar você, fui Deus de pequenos fragmentos teus.
Eu na moldura, no espelho, em mim – apenas no que sempre cresceu comigo; em você, onde o meu atrito fez sombra cicatriz; nessas fotos, nos silêncios, no vento que sopra na janela e imita a nota de uma música, na lembrança do sexo, no para-brisa do carro, na rede do quintal, na macieira do quintal, na caixa de entrada do e-mail, na mochila. Você na parede, na tesoura de cortar unhas, também nas fotos, na escada do prédio que subíamos em sorrisos (memória que me resguarda quando deito), no quadro pobre comprado em dia de preguiça, no tédio que remete ao tédio em companhia, nos segundos (o que me obriga a te amar, enquanto o mundo for feito de segundos), no aroma das páginas de todos os livros, nos papéis ferozmente rasgados daquela bem intencionada carta, agora já deteriorada em algum canto de terra; nos suspiros, em você, na harmonia que sempre te rege; em mim, nessas lágrimas...
E não há nas pessoas um objetivo tão primordial como a busca de se organizar para se encontrar novamente em contornos e compactar-se novamente ao corpo, assim fica mais fácil dar passos. Por não conseguir reunir e recolher o que existe de mim nessas quinas e curvas (já que muitas vezes me deparo com você), vaza pelos dedos qualquer longínqua ideia de estrutura. Faz poça no chão, reflexo verdadeiro. Há fatos gotejando pelo mundo, e enfim independo da memória para eternizar nossa fusão, meu intento. Abraço o vazio como quem compreende o que há para além da razão. E só assim consigo Ser.
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
Mantras de Outono
Ode aos desejos dos homens, às volúpias dos homens. Comemoremos a selvageria das vozes, das declarações de barro e dos heróis de pó. Comemoremos com vinho e melancolia. Com a embriaguez surda do cotidiano. O amor passageiro, o choro noturno e notívago e sonâmbulo e sozinho, o suspiro da fé do andarilho sem chão – sem pernas. Daremos as mãos, mas não há unhas: garras, e nas garras: dor. Talvez nos encontremos peça de alguma história triste, tragédia imensurável; talvez nos encontremos tragédia de uma peça maior. Dos beijos que se descarnam quando as luzes da cidade morrem, escorrerão as salivas de outros, e passados outros, ansiando futuros muitos. O sangue que escorre do punho desferido no arame é uma gota desperdiçada nesse cosmos indiferente. Sentemos nos bancos de praça a observar crianças, e aprender os sorrisos fáceis da inocência que se esvai. E o ar que sopra nos ouvidos sempre traz uma mensagem derradeira, de uma música já finda no início, bulida em notas de aves e insetos. As flores permanecem vigilantes enquanto amassamos o chão com dilemas exauridos. Sobretudo, que venham as estações! E nas folhas de marrom-morte que acumulam os passeios do outono, vejamos o renascer de um ciclo em que a tristeza é também professora. Que façamos das nossas ações barca de altruísmo, e das nossas palavras o conforto do outro. O tempo do homem é medido em correntes de palavras e elos de ausência. O outro, o desafio maior. A maior necessidade dessa pessoa que lamenta, pois um abraço não se faz com um par de braços. Dois. Saibamos ser cinza, e ser fogo, e brasa, e lenha... Que haja força para os músculos correrem até os tesouros de nossas vidas, para os perdões que o orgulho encarcera, para os grilhões que a inapetência constrói nos covardes de alma. Que venha o avesso a cada pessoa machucada por nossos ataques, intencionais ou não. Reviremos o avesso quando no espelho a imagem parecer distorcida, e os desejos e vazios já não produzirem respostas. Quando no estômago perambular um restolhar gélido indecifrável. E que no afago haja compreensão, e não ânsia de engrandecimento, fome de completude. Que a amizade e o amor, estações distintas de uma mesma essência, sejam a flor colorida do mais tenro sentimento humano: a preocupação. A candura primordial. Flor, pra além do fruto. Um brinde a arte dos homens, sobretudo a arte escondida nas sombras de artistas tristes. E a grande árvore de raízes crepitadas abandona a seiva, e se despede da última folha corajosa...
E os Mantras de Outono se dissolvem no tempo, abraçando a morte.
sexta-feira, 20 de janeiro de 2012
Insônia

O meu luto são esses olhos bem abertos, que piscam vagarosos como a lua em sua derradeira insônia. Lentamente, os cílios se beijam e tão logo se odeiam. Não há convite para lágrimas trilharem o abismo do rosto, não querem passar pelas cicatrizes invisíveis cravejadas nesses ângulos. Porque todas as fontes que deságuam nesse interior, e no interior do interior, foram bulidas ao ínfimo espaço que preenche o vapor quente que sai da minha boca e embaça o vidro do relógio. O líquido para me lavar já não existe. E também cessaram os gritos, os punhos fechados desferidos na parede nua a me presentear com escaras e cascas, tão menos dolorosas. A violência, avesso do âmago, também é o avesso da ventura: está ali, derrotada, sem energia para o giro das engrenagens. Então vocifero os maiores insultos para os outros, e para os amigos dos outros e amores dos outros (meus personagens); no entanto, sou o único e solitário ouvinte. Apenas meus ouvidos restaram para o clamor cansado da minha voz. Imagino suas faces estupefatas diante da verborragia lapidada em ofensas pontuais e consigo lá no fundo de qualquer canto sentir o tênue gosto ácido da vingança tardia. Mas no fundo, sou o único ouvinte, e ponteiros me dizem para dormir. Não. Os medicamentos tantos repousam nas caixas vazias em gavetas escancaradas. É essa pupila dilatada na madrugada quente que se vê no espelho. Um grande círculo preto, minha porta para o mundo. Culpada, portanto. E no fim não se reconhece, entre tantos traços mutáveis do animal-semente que foi descascado até se descarnar a vaidade. O homem que se projeta diante de uma estrada com os pés descalços, fantasiando futuros altaneiros; e sente a terra, sente o vento de todas as estações, mas a natureza não lhe pertence e não o deseja. A natureza é a incógnita que me repele, é uma intrusa. A subtração de mim, o universo menos eu. O meu luto são sombras numa rosa que engolem as trevas, sombras independentes da luz. Mais escuras que as trevas. E quantas sombras uma rosa pode ter? Sobretudo uma rosa condenada a perder suas pétalas todos os dias, todas as noites, forrando o assoalho com uma serrapilheira de podridão na qual se alicerça. Assim vão se desfalecendo suas raízes e caule, mas os espinhos se tocam e se ferem continuamente numa espiral de dor. Meu luto, salvaguarda primordial! São figuras transitórias entre o pavor da solidão e a tenra piedade, piedade própria, que sobrevive até mais que a esperança. A companheira final, que constrói esse cárcere invisível. Lúgubre silêncio que se come, que se cospe, que se devora a cada dia num martírio penoso e voluntário que me faz caminhar sem rumo em ziguezagues na tábua corrida, estreita. Casa pequena, essa alma pequena. E eu aqui, maestro da sinfonia com os rangeres pra lá da meia-noite. Tudo goteja e não sei onde, a madeira dilata em estalares sem ritmo e contrai em rachaduras, o coração tépido bombeia a essência que não aceito de bom grado. O luto se eterniza louvando memórias de passados felizes, costurando-as a outras memórias de passados inventados num caleidoscópio que só pode ganhar vida através da arte. A arte me engana e me reinventa, acalenta – preciso, pois não há outros olhos para se apiedarem. A verdade imiscuída nas lembranças doentias, onde? Espero que muito, muito distante. O telefone dorme, mesmo que eu o fite durante todo o tempo. Das janelas não chovem palavras (mas eu trovejo), tampouco os joelhos dobrados em súplicas de perdão imensurável. E das portas não entram arrependimentos nem cartas nem beijos muito menos presentes de aniversário. Vou me dissolvendo no nada, como a poeira que viaja nos dedos de luz da manhã, sendo sugada pelo lençol amarrotado nessa cama quase túmulo até o fim do nó, coleira e sufoco. Então surge aquela pergunta abissal, que coça gânglios nervosos. Aquela pergunta...
domingo, 8 de janeiro de 2012
Outros Fragmentos
V
Deambulava como uma serpente entre arbustos, entre suspiros entrecortados por fumaça. Uma folha morta que acaricia o vento de outono. Onde o outono existe, ali dentro, eternizado. Seu corpo ressequido exibia um formoso vestido de qualquer material brilhante, escarlate e de marca pobre. O conjunto todo era um quadro estranhamente deplorável: algumas ondas de pele flácida suicidando no precipício da roupa justa, sem êxito, porque a angústia de morar naquela carcaça não permitia a mais singela e apraz tentativa de fuga. E os olhos, exageradamente sombreados, realçavam os aspectos mais escuros de seus traços, a pelugem que forrava o pescoço despido de colar, e manchas violáceas. Ele, submerso em algum tipo de êxtase silencioso diante da figura incomum, sentiu o toque gélido dos dedos tortuosos da moça na sua mão esquerda e, naquela fração infinita de gesto, percebeu-a acariciando sua aliança dourada como tentáculos. Lentamente, circular... Abandonou o cigarro no firmamento e se sentou, curvada para frente, obtusa, ignorando a mesa que os separava.
- Ah, hoje lá fora está tão quente! – sua voz roufenha eram tons envelhecidos e atropelados, e a gesticulação que a acompanhava levava suas mãos aos cabelos para uma desgrenha de fúria contorcida e retorcida – Nesses dias meu ânimo fica completamente alterado... Fico suando e a pele fica grudenta, as pessoas passam de mau humor, te olhando feio, falando sobre você pelas costas. Trombam de propósito, tentam te assaltar quando você está toda distraída limpando a testa molhada e vendo ao longe se o ônibus passa – Abriu um sorriso débil e amarelado, e a respiração que saia pela boca cantava a arritmia histérica – Tudo em vão, esses idiotas, o que eles poderiam conseguir roubar de mim? Ultimamente tenho levado poucas coisas na bolsa: a carteira quase vazia, um pente de cabelo, uma escova de dentes, sabonete e papel picado. Sabe, às vezes acho que eu deveria me defender, mas fico com medo de guardar também um canivete e acabar fazendo bobagem...
O semblante do homem permanecia inalterado, ainda que os músculos tamborilassem em frêmitos imperceptíveis na pele. Enraizou os cotovelos na madeira do móvel entre eles, demarcando o território que posicionava os atores da peça. Para camuflar a investida talvez imperiosa em demasia, abriu as palmas das mãos na direção de Vera, mostrando que estava aberto à escuta e predisposto a ajudá-la. Conscientemente, ela não parecia ter compreendido o significado daqueles sinais.
- Qual a razão de guardar papel picado?
Ouvir a indagação nessas palavras pareceu doer profundamente. Ela agora se via estupefata em suor frio, com o olhar paralisado num globo de pouca pálpebra, buscando abrigo em algum ponto do universo próximo ao chão, tão longe dele. O silêncio que viera tinha muitos cúmplices – todo o cômodo e a cidade margeante que espiava pela única janela de madeira antiga, lustrosa e lapidada. A mulher varreu a sala mirando os móveis e as paredes guarnecidas de quadros randômicos e deu olhos para tudo. E todos os quadros passaram a observá-la e todo o tapete esperava para ser pisado e todas as gavetas abririam a qualquer momento cuspindo papéis e segredos, os seus. Abraçou-se com os braços que tinha, dois, não muito, jamais o suficiente. E por um momento aquele avesso de som foi sendo sucumbido pelo arfar da dilatação e retração do peito doloroso e dolorido. Quando tudo foi bulido à erupção, ela ainda mantinha a cabeça curvada para o assoalho, misericordiosa em si mesma.
- É minha forma de deixá-lo aos pedaços... Todos os dias acordo, bebo duas xícaras de café e um pão duro, puro. Uma metade da metade de um pedaço eu transformo em mais duas metades. Acabou que virou um hábito, sabe? Veja bem, não diria que eu sou uma pecadora por fazer metaforicamente o que ele fez em ato. Eu o rasgo simbolicamente através dessas migalhas que um dia formaram uma carta em que ele me rasgou prontamente, sem direito a gritos. Eu, mesma. O papel me rasgou toda, em milhões ou bilhões ou trilhões, não sei, de pequenos fragmentos que jamais se colarão, tal como esses picadinhos. Assim que é bom, porque nem no meu maior delírio eu poderei remontar novamente a carta. Ela está aqui, na distância de um dedo, mas são palavras mortas, e eu as mato de novo todos os dias depois do café. E o que sinto? Deleite...
- Mas para as palavras morrerem realmente elas precisam ser esquecidas. Ou até lembradas, mas superadas. Foi o que você fez?
- Eu me peguei pensando que essa luta em preencher o vazio essencial, que empurra as pessoas na busca pelas outras, é uma estrada que termina em dois precipícios, um na ida e outro na volta. Você deve concordar! – vociferou em alto tom, fazendo ecos reverberarem nas quinas com impacto, ao mesmo tempo em que raspava a nuca com as unhas, deixando rastros avermelhados e divergentes no terreno já erodido – Há egoísmo maior do que esperar que uma pessoa seja sincera e protetora e fofa e carinhosa e preocupada todo o tempo? Há, na verdade há! Esperar que a pessoa seja confiável! E que partilhe tudo, eis a maior ingenuidade dessas relações de barro que a gente vai construindo. A confiança é a tentação do egoísmo, água onde nascemos mergulhados. Você deve concordar!
- A confiança não pode ser filha do altruísmo, mas desconstruída por uma sombra, o sentimento de posse?
Vera cruzou as pernas e a cabeça pendeu para trás, a fitar o teto. Seus lábios pareciam incomodados, crispados num nó de pouca carne. A garganta se irritava com algo, como se um comprimido grande fosse e voltasse em gangorra, difícil de engolir. Então pensou em comprimidos, remédios, drogas, fugas e alívios imediatos. Mas queria o sono eterno dos mortos, natural como o destino dos vivos, mas com direito a arrependimento. Ou com direito a ver as lágrimas das pessoas rodeando o túmulo num tumulto alvoroçado. Que viessem em tempestades! E ela ali, fantasma, atrás de qualquer pedra, no regozijo da vingança silenciosa, dos pudores cuspidos, da verdade tão descascada até a semente invisível. E entre os devaneios tantos que alguns segundos podem comportar, ela sentiu o aroma de jaspes. Sem nunca ter visto um. Provavelmente não possuem aroma. Mas sentiu, e era seu, em significado e significância. O aroma que o mundo deveria ter.
- Sérgio era um homem na linha, pelo menos na linha dos mansos... Mas você nunca realmente conhece a pessoa que está ao seu lado, não é mesmo? Não até ela te mandar uma carta dizendo que fugirá e levará as filhas porque simplesmente não a suporta mais. Ah, Sérgio! Quanta força, quanta bravura, quanta maturidade! Não, não, não, essa linha que ele andava fez curva pra lá depois pra cá e ele foi longe, nem sei pra onde. Agora é que o conheço como deveria: patético, rastejante, corrupto e, entre todas as coisas e mais que todas as coisas, a repugnante característica dos fugitivos, a mesquinhez! Que me esperasse acordar para que enfim despejasse as ofensas todas mirando meus olhos! Tudo bem se eu tivesse que ouvir tudo em silêncio, mas deveria ter o direito de desferir-lhe um olhar de ódio, de frieza, de indiferença, ou de pesar. Um olhar, último, e isso me foi negado.
- E o olhar que gostaria de dá-lo é esse que você me mostra?
Ela gargalhou, enquanto erguia-se da cadeira. Ondas tônicas que cuspiram sua língua ao ar, latejante, tal qual cadela. Titubeou meio arqueada, orientando-se nas próprias dimensões mais uma vez, que por alguns minutos permaneceram adormecidas. Quando a situação risível teve seu fim, restou o uníssono germinar de uma sílaba morta, indecifrável, emaranhando raízes infinitas. Que comporia uma poesia em hecatombe, feita por um poeta de pés descalços na paisagem mais bela entre todas. E tão bela a poesia também! Mas sem leitores, nem mesmo o próprio poeta. Ele teria perecido à sensação dos pés, o contato execrável com o destino de tudo.
- Querido... Eu por acaso mostro um olhar de prostituta?
VI
Quando vi aquela parede de onde cascateava uma fúnebre luz vermelha eu ainda não sabia que toda a felicidade da vida de amante iria em breve se esvair. Fiquei à espreita como realmente um animal qualquer fica num ambiente novo. Ele correu para o banheiro num trejeito tosco para despejar a cerveja da bexiga. Vi de soslaio. A cama era só um colchão grande e duvidosamente branco com almofadas pretas onde deveria estar uma bela e grande e espelhada cabeceira. Se eu fosse a sua mulher. Deitei-me e me virei para a TV pequena bem próxima ao teto. Esperei alguns segundos. Embalada pelo som irritante do chiado da dissintonia. Adequado. O homem engatinhou até mim para dar início a ventura que era o objetivo de tudo. A língua de fora meio que respirando. E deixou o chiado como a melodia daquilo. Todas as palavras e mensagens e flertes e surpresas e promessas de outrora eram as arestas do monumento que ele queria erguer ali. E destruir depois. E já estava todo erguido. Encostou a mão na minha e me pediu que o beijasse. Posição desconfortável aquela entre o sentar e o deitar. Aproximei-me e ele negou com a cabeça sem olhar para os meus olhos. Ali dentro nem sequer por um segundo conseguiu me fitar nas mais diversas alturas que eu propositalmente me colocava. Levou minha mão com chaga num pequeno montículo dórico e torto entre suas pernas e eu enfim entendi que ele queria que o beijo dormisse ali embaixo. Fiquei estupefata e todos os meus princípios poucos porém longevos queriam emergir para vociferar insultos e gritos. Não. Deixemos as reclamações para depois! E as lamúrias recalcadas para a madrugada... Então fiz. Bem. Com a nuca voltada para ele eu não poderia saber que tipo de feição ele fazia. Prazer ou angústia. Ou os dois. Não era importante. Ele deveria estar assistindo ao chiado que salpicava branco no fundo preto. Quando voltei para beijos propriamente ditos e clamorosos as roupas deslizaram pelos corpos de pálpebras embalsamadas. Não houve encaixe nem comunicação e quase nem contato. Já que o arrepio era elétrico e lembrava o prelúdio da descoberta de um segredo atroz. Tortuoso e obscuro como o que não deveria existir senão nas imaginações depravadas que coçam as quinas da mente. Eu ali... Convicta da história mais silenciosa e solitária que meus atos deturpados já escreveram em letra feia. À deriva das sensações que um dia me foram dadas apenas para provocar o apetite de mulher primitiva e encarcerada que sou. E então essas vontades são sanadas e perdidas num abismo de avessos. Não. Não havia uma história minha. Era a dele. Intrusa no cotidiano de um homem repleto de responsabilidades e convicções. Desejos e família. E a atração se deu já que eram itens que eu não detinha e talvez nunca. E quando o travesseiro amigo se dispunha a ouvir segredos ele sabia que o que eu desejava era ser a primeira. Nunca houve maior tolice para se pensar. Tampouco em devaneios essa seria a minha conclusão. Amor? A flâmula na virilha lassa se esfriou. A pira de marfim desfalecida. Cândida e quase virgem nesses ritos ardentes. O tesão fugaz amoleceu-se num triste não-jorro e gozo de líquido nenhum. Mas de angústia pela vergonhosa pequenez de tudo. Vestir a roupa! Vestir a roupa! Sem olhares. Fez mosaicos de argumentos pífios para acalentar mais os próprios ouvidos do que os meus. Meros objetos. Altaneiros nos disfarces das conveniências adultas selamos enfim um último abraço na maior distância possível em que cabem dois seres que se tocam. Já no carro me inclinei para pensar nas fanfarras dos meus próprios infernos. A paisagem dançando lá fora de felicidade diante da comédia que somos. Transeuntes rindo de quê? Fui semeada com cinzas dos restos! E raiada nesses mesmos restos! Sou compassiva do meu ser salobro e bizarro e nada mais reservo para os homens (e mulheres) senão o complacente sorriso de quem se deixa dominar.